UMA DÍVIDA COM CARÁTER DE COISA — por Stefano Harney
- GLAC edições

- 18 de dez. de 2024
- 7 min de leitura
Atualizado: 12 de fev. de 2025
Sete anos antes do lançamento de All Incomplete, pela editora Minor Compositions, e nove anos antes da edição em português Tudo Incompleto, pela GLAC edições, Stefano Harney já discutia o impacto da logística na estruturação da sociedade, do pensamento, da vida cotidiana. O texto a seguir, escrito em 2014 e traduzido por Bruno da Silva Amorim, que também traduziu Mais uma vez, subcomuns, serve como uma breve amostra da discussão em torno da logística, um dos temas discutidos com desenvoltura formal e crítica em Tudo Incompleto, ao lado de Fred Moten. Na introdução de Tudo Incompleto, Victor Galdino e viníciux da silva escrevem: "A logística sobre a qual os autores meditam é a prática infernal que se move a partir do desejo de acesso total, abate dos cachos, do endireitamento — para usar termos dos autores. Enfim, um esforço incansável de desfazer toda obstrução".
Boa leitura!
—
Uma dívida com caráter de coisa
Stefano Harney [1]
Tradução de Bruno da Silva Amorim
Objetos — “coisas” — tem a capacidade de processar informações e se comunicar entre si e com o ambiente de forma autônoma. Essa autonomia é uma capabilidade [capability][2] (ou conjunto de capabilidades) que permite que uma ação específica de um sistema aconteça de maneira automática ou “independente”. Atualmente, a filosofia orientada a objetos está popularizada porque sugere que os objetos podem ter sua própria agência e interagir entre si sem a intervenção humana. Infelizmente, no entanto, a primeira frase deste parágrafo não vem dos escritos de um filósofo orientado a objetos, mas sim de um artigo sobre logística de transporte. E a segunda, de um estudo recente do Departamento de Defesa Norte Americano sobre colaboração entre humanos-sistema[3] na logística.
O que chama minha atenção neste momento da história é o crescimento da ciência capitalista da logística, da qual a filosofia orientada a objetos é apenas um sintoma, mais ou menos inconsciente. Essa é a ciência capitalista que, atualmente, está contaminada pelo sonho capitalista, sendo aquele sujeito automatizado que não precisa mais de trabalho — ou, como afirmam os estudiosos da logística, um tempo que não é mais necessário. Isso permite uma completa interoperabilidade[4] com combinações infinitas dos quatro circuitos do capital: produção, circulação, distribuição e realização.
Teóricos da logística, especialmente aqueles que trabalham com as “invocações de objetos”[5] mais avançadas — algoritmos que modificam objetos através de uma comunicação entre si, enquanto objetos —, fantasiam com a eliminação do agente controlador, ultrapassando a ideia do estrategista humano como um obstáculo. Eles sonham com um momento absoluto, que poderíamos chamar de concreto, onde a estratégia se dissolve no potencial de cada coisa na simultaneidade de tempo e espaço, sem que seja necessário “desacelerar” para analisar, planejar ou explicar. A logística não faz distinção entre esses objetos, sejam eles dinheiro, mercadorias, trabalho ou a terra. Todos os objetos, incluindo o corpo humano em suas partes e afetos, devem operar uns sobre os outros sem qualquer interferência subjetiva. No fundo, a logística, em última análise, busca o que o filósofo orientado a objetos Tristan Garcia, sem querer, chamou de “um pensamento sobre as coisas ao invés de um pensamento sobre um pensamento sobre as coisas”. O fato de a logística ainda não ter alcançado essas “estruturas [frameworks] distribuídas e orientadas a objetos para a coordenação de sistemas autônomos” não significa que não sentimos os efeitos dessa ciência. Um deles é o surgimento de populações logísticas e instituições algorítmicas.
Um nítido exemplo do surgimento de populações logísticas pode ser encontrado nas universidades “globais” contemporâneas. Frequentemente ouvimos a reclamação de que essas universidades estão apenas formando alunos para o mercado de trabalho, em vez de uma educação legítima. No entanto, não é bem assim. A educação hoje não é só uma ferramenta. Pelo contrário, ela prepara os alunos para se tornarem, como observa Michael Hardt, sujeitos desejantes nas melhores universidades, enquanto em outras, são resumidos a objetos do desejo. Os alunos devem ser capazes de se adaptar a qualquer situação com total conformidade. Não existem objetos instrumentais na educação deles, porque eles são os próprios objetos da sua própria educação.
Um perigoso exemplo disso é o surgimento do que Patricia Clough chama de racismo populacional, onde sociedades disciplinares e de controle se chocam entre si, ameaçando até mesmo o contraditório conforto de ser um sujeito biopolítico. Agora, nesse cenário, só existe sangue, tecido da pele, dialeto, traço, hábito, circulando sem referência e, mais importante ainda, sem perspectiva de retorno à própria subjetivação. Mas, no entanto, este último exemplo sugere uma maneira de viver não como objetos capitalistas, mas como “coisas” capazes de evitar tanto a ingenuidade da filosofia quanto as maquinarias das relações capitalistas que a sustentam. Os pilares do capitalismo e a moderna ciência da logística compartilham uma origem comum na primeira grande e terrível operação logística: o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. A logística, nessa história infernal, produziu o que pode ser chamado de sujeito sem ponto de vista e, ao mesmo tempo, de todos os pontos de vista, na pessoa africana escravizada. Negado em subjetividade e existindo através da perspectiva de cada circuito de capital, essa mercadoria que podia falar, como Fred Moten nos lembra, desenvolveu o que Edouard Glissant chamou de “o consentimento de não se tornar um”. Assim, na linha, e de alguma forma antes, do que Cedric Robinson chamou de tradição radical negra, a negação da subjetividade, antes mesmo dessa subjetividade ser negada, tornou-se a base de uma vida social informal, próspera, diferente e global.
Nas instituições algorítmicas contemporâneas, não só nas universidades, a possibilidade do que Valeria Graziano poderia chamar de um outro modo de sociabilidade está sujeita à severa externalização de todo pensamento e estudo, deslocando a vida social para fora do acolhimento dos recursos institucionais e para os imperativos da interoperabilidade na fábrica social em geral. Essas mesmas instituições operam através da constante invocação de crédito, que nada mais é do que a ativação de objetos pelo capital. No entanto, a tradição radical negra opera através de uma dívida impagável. Se a dívida é tida, geralmente, como uma promessa forçada de manter as relações capitalistas no futuro, por meio de e através do trabalho futuro, a dívida negra é a promessa de não manter essas mesmas relações sociais atuais no futuro. Em vez disso, essa dívida é a herança inestimável e desvalorizada de uma vida social experimental, herdada na proximidade dos corpos, a dívida dos corpos, entre os deslocados. Essa é, hoje, a herança de todos os objetos forçados a entrar na logística, se decidirmos adotar essa dívida com caráter de coisa.
MAIS UMA VEZ, SUBCOMUNS — Fred Moten & Stefano Harney
Subcomuns é, antes de qualquer coisa, uma proposição para o agora, mas também é uma percepção poética da realidade, pois, para além de um conceito, requer de quem o lê, ou seja, de quem o faz materializável, o reconhecimento e a admiração pela perspectiva do subterrâneo, do invisível, do entremundo, talvez até do anonimato.
R$ 49,00
TUDO INCOMPLETO — Fred Moten & Stefano Harney
Elaborando ainda mais as ideias presentes no livro anterior, The Undercommons [Os Sobcomuns], Fred Moten e Stefano Harney, em Tudo Incompleto, ampliam para a investigação crítica sobre logística, a individuação e a soberania. Este livro reflete as oportunidades que os autores tiveram de viajar, escutar e aprofundar a reivindicação de e para seu compromisso com a parcialidade.
R$ 65,00
Notas
[1] No original: Harney, Stephen Matthias. Thingly Debt. (2014). Truth is Concrete: a handbook for for artistic strategies in real politics.
[2] N. da T.: O termo “capability” é comumente utilizado na literatura internacional, sobretudo nas áreas de Negócios, que significa um conjunto de métricas capazes de atender a uma demanda conforme a expectativa, tanto do cliente quanto da empresa, mas não possui uma tradução adequada para o português. Geralmente, sua tradução mais comum, “capacidade”, remete diretamente ao conceito de “capacity” em inglês, resultando assim uma ambiguidade nas traduções. Para evitar tal confusão, alguns tradutores propõem a utilização do neologismo “capabilidade” como alternativa mais precisa para dar sentido ao original “capability”.
[3] N. da T.: Na logística, refere-se à interação integrada entre trabalhadores humanos e tecnologias avançadas (inteligência artificial, automação e robótica) para otimizar e aprimorar a eficiência dos processos logísticos. Essa interação pode envolver a utilização de sistemas automatizados para tarefas como o gerenciamento de estoques, roteirização e automação de armazéns, enquanto humanos supervisionam. Tal interação visa um ambiente logístico mais eficiente.
[4] N. da T.: capacidade das aplicações e dos sistemas de trocar dados de maneira segura e automática, independentemente dos limites geográficos, políticos ou organizacionais.
[5] N. da T.: Na filosofia, particularmente na filosofia orientada a objetos, as “invocações de objetos” refere-se à ideia de que os objetos (entendidos como entidades ou coisas) possuem agência própria e podem interagir entre si de forma autônoma. Neste sentido, as invocações são tidas como ações ou interações que os objetos realizam uns com os outros dentro de um sistema ou rede. Na logística, o termo, por outro lado, refere-se à ativação de recursos (como sistemas, equipamentos ou ferramentas) que realizam tarefas específicas dentro do processo logístico. Esses “objetos” podem ser tanto físicos quanto digitais e, ao serem invocados, são utilizados de maneira autônoma ou semiautônoma para facilitar operações logísticas. Assim, as invocações de objetos, no contexto logístico, trata-se de ações que gerenciam e utilizam recursos de forma linear e eficiente, com o auxílio de sistemas automatizados, para responder às demandas do próprio processo logístico.
*
Stefano Harney é um acadêmico e ativista conhecido por seu trabalho em áreas como teoria crítica, educação e política social. Leciona na European Graduate School (Suíça), e na Academia de Mídia e Artes de Colônia (Alemanha) e mora parte do ano no Brasil. Pela GLAC, é autor de Tudo Incompleto e Mais uma vez, subcomuns, junto de Fred Moten.
Bruno da Silva Amorim é graduando em Serviço Social. Integra a escola livre Bibliopreta, na qual colabora em iniciativas voltadas para a educação popular. É membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa Mabel Assis, da Faculdade Paulista de Serviço Social, dedicado à produção de conhecimento sobre relações étnico-raciais no Brasil e investiga as condições da violência racial, explorando formas de recusa e fuga das mesmas. Pela GLAC, trabalhou na tradução de Mais uma vez, subcomuns — poética e hapticalidade, de Fred Moten & Stefano Harney, lançado em 2024.






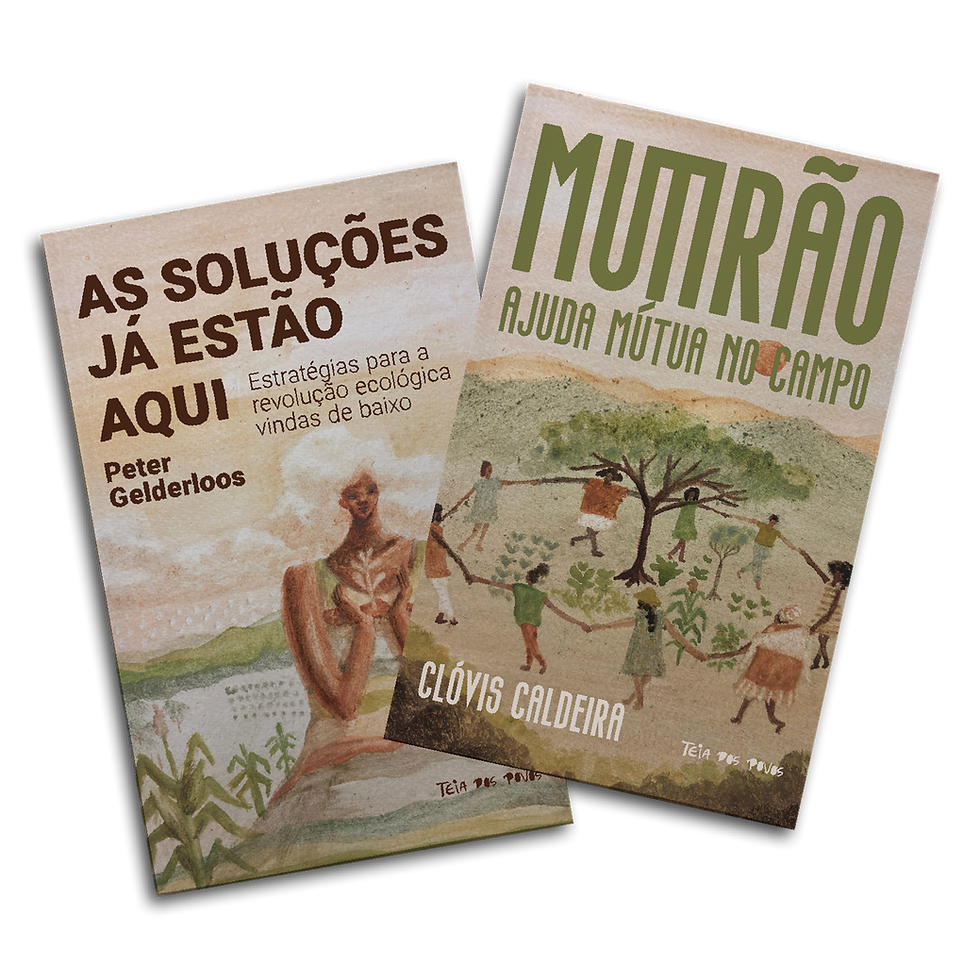










Comentários